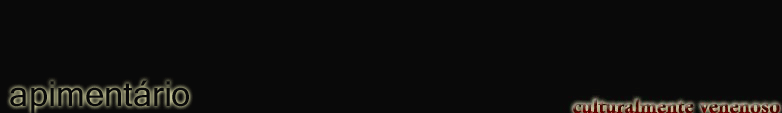Como viver a própria sexualidade que quer explodir? E como dar vazão ao desejo num espaço onde a homofobia impera ao lado da hipocrisia religiosa? Cada vez mais, a comunidade gay consegue sustentar seu discurso à favor da liberdade de expressão — sexual, identidade e idealista — dentro de uma sociedade ainda repressora. Filhos de Deus (lançado também com o ridículo título Amantes do Caribe) é mais uma prova cinematográfica resultante deste processo — gradual, diga-se de passagem — que quer combater os eternos tabus sociais que jamais se apagam. Como entender as relações entre dois homens? O que fazer para a sociedade reparar seus atos de crueldade e preconceito perante homossexuais? Mais que um estudo sobre os percalços, anseios e motivações da predestinação queer, este filme impressiona por apresentar um tocante, não menos realista, amor interracial entre dois homens. Aqui a narrativa centra-se nas belas praias das Bahamas, conhecemos Johnny (Johhny Ferro), um artista introvertido que sofre bullying dos moradores locais por conta de seu comportamento considerado esquisito e pela sua opção sexual. O jovem não consegue viver tranquilo já que sofre por conta de sua sexualidade, então se firma na negação e foge de maiores contatos afetivos para não se frustrar. Ao vivenciar uma crise de inspiração, o artista é aconselhado por sua professora a passar uma temporada na Ilha de Eleuthera, no intuito de recuperar o fôlego da criatividade. Ao conhecer o atleta Romeo (Stephen Tyrone Williams), seu destino muda, é quando o sentido mais dramático do roteiro evidencia seu caráter principal: existe uma atração sexual inevitável entre os protagonistas, um sentimento que pode provocar uma violenta catarse nas vidas de cada um. Mas, o filme apenas não se resume a esse senso, há mais discussões polêmicas por aí.
Como viver a própria sexualidade que quer explodir? E como dar vazão ao desejo num espaço onde a homofobia impera ao lado da hipocrisia religiosa? Cada vez mais, a comunidade gay consegue sustentar seu discurso à favor da liberdade de expressão — sexual, identidade e idealista — dentro de uma sociedade ainda repressora. Filhos de Deus (lançado também com o ridículo título Amantes do Caribe) é mais uma prova cinematográfica resultante deste processo — gradual, diga-se de passagem — que quer combater os eternos tabus sociais que jamais se apagam. Como entender as relações entre dois homens? O que fazer para a sociedade reparar seus atos de crueldade e preconceito perante homossexuais? Mais que um estudo sobre os percalços, anseios e motivações da predestinação queer, este filme impressiona por apresentar um tocante, não menos realista, amor interracial entre dois homens. Aqui a narrativa centra-se nas belas praias das Bahamas, conhecemos Johnny (Johhny Ferro), um artista introvertido que sofre bullying dos moradores locais por conta de seu comportamento considerado esquisito e pela sua opção sexual. O jovem não consegue viver tranquilo já que sofre por conta de sua sexualidade, então se firma na negação e foge de maiores contatos afetivos para não se frustrar. Ao vivenciar uma crise de inspiração, o artista é aconselhado por sua professora a passar uma temporada na Ilha de Eleuthera, no intuito de recuperar o fôlego da criatividade. Ao conhecer o atleta Romeo (Stephen Tyrone Williams), seu destino muda, é quando o sentido mais dramático do roteiro evidencia seu caráter principal: existe uma atração sexual inevitável entre os protagonistas, um sentimento que pode provocar uma violenta catarse nas vidas de cada um. Mas, o filme apenas não se resume a esse senso, há mais discussões polêmicas por aí.O diretor Kareem Mortimer conduz com muita atenção a trajetória de amor, desejo e estranheza de seus dois garotos. Interessante que a personalidade de Johnny é bem diferente de Romeo, mas ambos vivenciam os tormentos de uma repressão sexual visto que a sociedade eterniza uma indisposição aos seus impulsos libidinais e existenciais. Se Johnny busca a si mesmo nas ruas de Nassau, é Romeo que sofre por conta da família que insiste em providenciar um casamento com uma antiga namorada. É a típica discussão que prevalece neste sentido: o homem que tem que mascarar sua sexualidade para se enquadrar socialmente, ainda mais quando a sociedade costuma cobrar casamentos heterossexuais e filhos. E Mortimer mostra a relação de Johnny e Romeo bastante trágico e proibido, desde o começo. A cena que ambos dançam, corpos nus, sem música, apenas no embalo do calor dos corpos, é um dos momentos mais bonitos já concebidos na representação da cinematografia homoafetiva.
Paralelo aos personagens principais, há ainda subtramas que sustentam o apelo militante contra ao preconceito ao homossexual. Há Lena (Margaret Laurena Kemp, atuação notável), casada com um pastor homofóbico que, na verdade, é um gay enrustido que se envolve sexualmente com garotos secretamente — contundente a postura dessa personagem que vivencia o tormento de uma vida mascarada, além de apresentar intolerância religiosa contra à homossexualidade, podando até seu filho que, ainda criança, já apresenta um “comportamento suspeito” que ela acredita ser condizente com o caráter homossexual.
O roteiro de Mortimer tem uma forte discussão sobre a homofobia, por isso insere inúmeros diálogos bem reflexivos que induz o espectador a pensar sobre essas questões. Mas, o que torna mais admirável é a química sensual e interpretativa do par central, por sinal bem caracterizado pelos atores Johhny Ferro e Stephen Tyrone Williams que sustentam o apelo da libido, do amor e da barreira que dificulta a relação de apenas dois homens que queriam viver um para o outro. Sob o véu das questões raciais, homoafetivas e das intolerâncias religiosas, este é um trabalho que acaba por tocar nas feridas sociais sem medo. E só por promover essa reflexão já vale uma conferida.
Dirigido por Kareem Mortimer
Escrito por Kareem Mortimer
Com Johnny Ferro, Stephen Tyrone Williams, Sylvia Adams